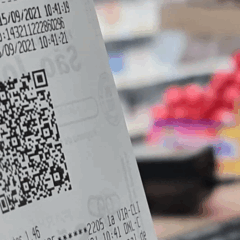Recentemente, em decisão monocrática (aquela que é tomada desde logo por um julgador só e, depois, deve ser submetida à decisão do colegiado), o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, por enquanto (pois isso pode mudar por ocasião da apreciação do caso pelos demais Ministros), acabou com a possibilidade de réus lançarem mão do argumento da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri que, pela Constituição Federal, tem competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, pois estes vão a júri popular.
A título de exemplo, na hipótese de o marido matar a mulher para lavar a sua honra, pela traição por ela praticada, pela decisão de Dias Tófolli, restará nulificado o julgamento, se a Defesa utilizar, como estratégia defensiva, em Plenário, a tese da legítima defesa da honra, por entende-la incompatível com o sistema constitucional.
Não li a decisão, assim como não conheço o processo em que ela foi prolatada, de modo que nada sei senão de ouvir falar pela imprensa. O fato é que, ao longo de anos, vi essa tese ser defendida inúmeras vezes como fundamento de pedidos de absolvição de réus no Tribunal do Júri. Também não desconheço que os Tribunais do Brasil estão repletos de julgamentos pelo Júri em que essa tese é utilizada não raras vezes com sucesso.
Por que ela prospera? Porque a decisão que a acolhe está baseada em fundamentos culturais que, embora asquerosos, ainda estão muito impregnados numa sociedade machista, alicerçada em uma tradição histórica de superioridade masculina e de submissão da mulher ao marido, ideia que parece estar superada na Constituição e nas leis infraconstitucionais, mas ainda muito viva na cultura brasileira.
Deixando de lado aspectos que já abordei em outras colunas, como, na Mitologia, a “Caixa de Pandora”, e no próprio Cristianismo, segundo o qual a primeira mulher foi feita a partir da costela de uma homem (Eva e Adão), e sendo ela, a mulher, em ambos os casos, a culpada pelo pecado original e por toda dor e sofrimento do mundo material, lembremos que o Brasil foi colônia de Portugal desde o ano de 1532, quando aqui chegou a primeira expedição oficial, até 1822, quando foi proclamada sua Independência.
Ainda, que, durante esse período de 290 anos de colonização, como era de costume, a Coroa de Portugal passou ditava as regras e os costumes que deveriam ser, a partir de então, seguidos pelos moradores da Colônia. Por conseguinte, o modelo cultura, as normas assim como as normas do sistema jurídico, econômico, político e religioso vigentes na metrópole foram aplicados na Colônia. Logo, da mulher, tanto lá como cá, esperava-se castidade e fidelidade no matrimônio, como virgindade antes do matrimônio.
Superadas as três Ordenações Portuguesas que vigoraram no Brasil, e proclamada a independência de nosso país, surge, em 1830, o nosso primeiro Código Penal, chamado “Código Penal do Império”. Mas um elemento cultural deste jaez não é rompido pelo simples promulgar de uma nova lei. Da mulher, continuou a se esperar castidade e fidelidade no matrimônio, como virgindade antes do matrimônio. Seguiu vivíssima a ideia de lavar a honra masculina com o sangue em caso de infidelidade.
Sobreveio, na sequência, o nosso “atualíssimo” Código Penal, de 1940, e a legítima defesa da honra foi excluída do conceito de Legítima Defesa, dispondo o artigo 25 do referido Diploma Legal assim: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Bem examinado, a lei nova tutelou a legítima defesa da vida, o direito de matar para não morrer, e não o puro extermínio.
Não obstante, como a lei, por si só, não tem aptidão para acabar com a tradição, a tese da legítima defesa da honra continuava servindo até hoje para inocentar réus em casos de feminicídio. Basta lembrar o famoso caso ocorrido em 1976, quando a socialite Ângela Diniz foi assassinada com quatro tiros no rosto pelo companheiro, Doca Street, em Búzios, no Rio de Janeiro, gerando um processo penal em que os advogados de Doca alegaram legítima defesa da honra que, em sendo acolhida, fez com que ele pegasse apenas dois anos de prisão, logrando, com isso, a suspensão da pena (“sursis”).
Doca alegou ter matado “por amor”, embora este seja um argumento de quem exatamente não ama, e o julgador que acolhe essa tese, parafraseando Millôr Fernandes, realiza uma justiça cega, com balança desregulada, usando uma espada sem fio. Talvez seja por isso que, cinco anos depois daquela decisão (anulada), em novo julgamento, Doca foi condenado por homicídio a 15 anos de privação de liberdade. Doca alegou ter matado “por amor”.
Mas não vamos acreditar que o elemento cultural de um homem senhor da vida e da morte de uma mulher foi abandonada no Código Penal de 1940 ainda em vigor. Isso porque, na redação do artigo 121, § 1º, bem camufladinho, o elemento cultural se manteve quase intacto. Se agora, já não se poderia falar, com amparo na lei, em legitima defesa da honra, o legislador (não havia nenhuma representação feminina no Congresso Nacional), instituiu o chamado “homicídio privilegiado”.
É claro que não cogitar que alguém tenha o privilégio de matar alguém, mas, na prática, a cultura agora colocada num figurino legal diferenciado, tratou de amenizar, numa expressão clara de reduzir idêntica conduta à quase impunidade, diz o Código Penal, em seu artigo 121, § 1º, que “se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou impelido por violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um teço”.
Pronto. Vivíssimo o elemento cultural da legítima defesa da honra, embutido na ideia, agora, legal, de que, se o agente praticar o crime impelido por violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço, ou seja, tornar uma condenação que, em qualquer hipótese, é sempre desproporcional à consequência da extinção de uma vida e a execução sumária de uma pessoa, um quase nada ou um faz de conta.