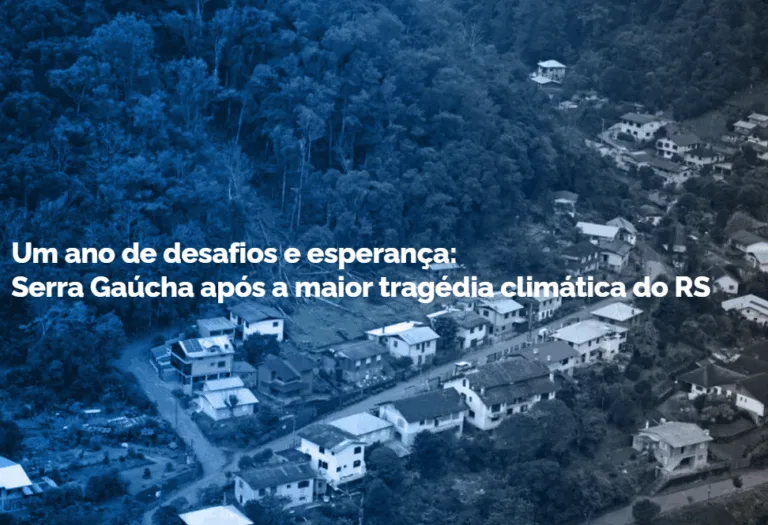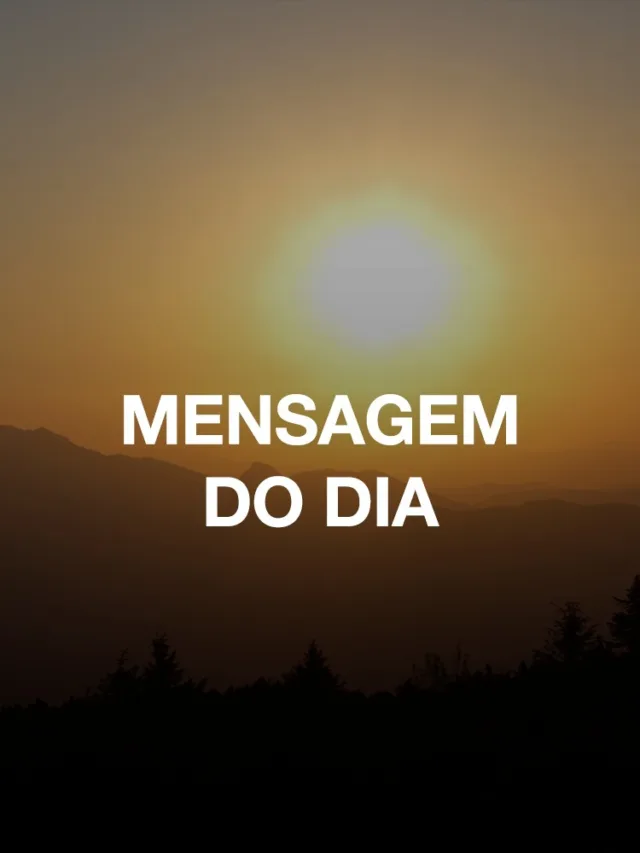Alguns têm a pretensão (ou a ilusão) de fechar o conhecimento em uma única ciência e, por vezes, até explicar integralmente o ser humano com uma delas, como autorreferencial e completude.
Por exemplo, na Filosofia, quando se busca o sentido do “humano”, é frequente que nos perguntemos: “O que há em nós que nos faz humanos e que nos torna singulares em relação a todos os demais seres da natureza?” Pois nem em termos filosóficos é possível dar uma resposta hermética para referido questionamento que, ao fim e ao cabo, indaga: Qual é a natureza humana?
Nessa pergunta está implícita a ideia ou o pressuposto de que existe uma natureza humana que nos distingue de todos os demais seres do universo, sejam ele animais, vegetais, minerais enfim. Todos os filósofos concordam com essa ideia? Não.
Aristóteles, dentre outros, perfilava o entendimento de que existe uma natureza humana e que ela se define pela racionalidade: nós, seres humanos, somos racionais e é isso que nos caracteriza e nos torna singulares, porquanto somos dotados de razão. Além disso, o fato sermos dotados de uma natureza humana significa, também, que já nascemos com ela. Assim, ao longo da vida, tudo que fizemos é transformar em ato as potencialidades que carregamos conosco desde o nascimento.
Já outra parcela dos filósofos, insatisfeitos com essa distinção, sustentaram que o ser humano se caracteriza pelo que o ser humano faz de si mesmo, de acordo com as suas realizações no mundo. Tais filósofos, como o dinamarquês Kierkegaard, por exemplo, tiram o foco da definição do “humano” da “essência humana” (razão ou racionalidade) e a colocam na “existência”: a existência precede a essência. Independente da racionalidade (a alguns são mesmo privados dela), é o simples fato de existir que nos faz humanos.
Assim, não existe nada de universal que defina o ser humano. Só podemos compreendê-lo observando como os seres humanos vivem e se relacionam com os demais e com as coisas do mundo. Nessa perspectiva, para saber os que faz de homens e mulheres seres humanos – e não outros seres quaisquer -, mais importante seria estudar a “Condição Humana” (Hannah Arendt, existencialista, tem inclusive uma obra com esse nome). Quando se fala em “condição humana” estaríamos falando do ser humano concreto, já não de uma especulação filosófica puramente teórica.
Outras ciências dariam outras respostas a esse debate. Uma delas aguçou meu pensamento por esses dias, por ocasião de ler a obra de Ann Rule (“Ted Bundy: um estranho ao meu lado”). Indaguei que resposta a Psicologia daria ao lhe ser questionado: “o que é humano?”
Theodore Robert Bundy, aos 24 anos, estudante de Psicologia, trabalhava como estagiário em um escritório de uma Clínica de Prevenção ao Suicídio em Seattle, onde salvou, e ajudou salvar muitas vidas. Certo dia, conversando com sua colega de trabalho Ann, disse a ela: “As pessoas também mentem por amor”, justificando, entre outras coisas, uma confidência de que, havia dois anos, tinha confirmado que sua irmã mais velha, era, em verdade, sua mãe.
Em dado momento, Ted Bundy se tornou um dos mais audaciosos, glamurosos, sádicos e cruéis assassinos em série dos anos 70; um psicopata que bem poderia ser denominado como “o Jack Estripador Norte-Americano”, um verdadeiro “Drácula”, como Ann referiu em sua obra.
Quando ele foi humano? Segundo que ciência e que teoria?
Nunca faltou, nem faltará, sob o aspecto teológico, quem diga que todos somos filhos de “Deus”, sem prejuízo daqueles que negam sua existência.
Será que, em algum momento, obterei uma resposta? Não creio. Quando achar alguma razoável, já teria arrumado mais perguntas. “Perguntolinas” são assim.