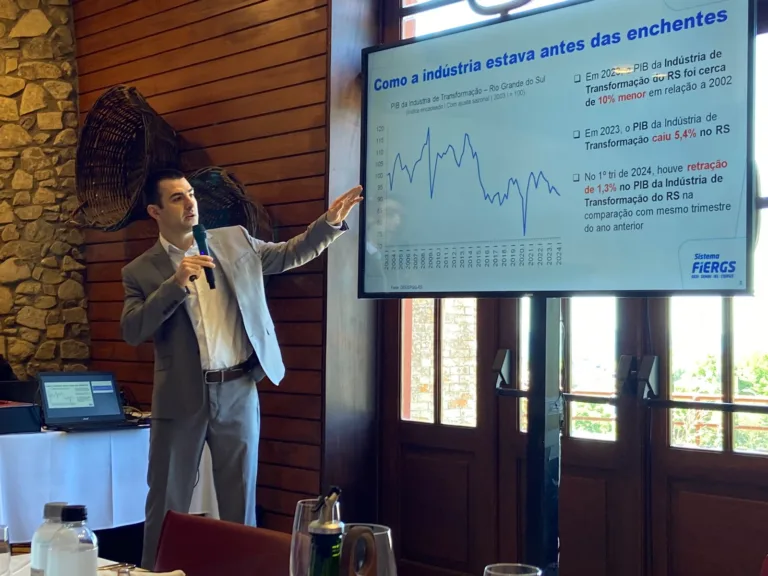Por uns dias pensei se falaria ou não sobre o tema que irei abordar. Meu receio era parecer antipática, coisa que eu não sou, embora esteja longe de ser perfeita. Ao contrário, eu estou de pleno acordo com aqueles que sustentam que é em nossas imperfeições que nos igualamos.
Primeiro, falei na minha participação no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan da Serra. Agora, coloco por escrito sobre minhas reflexões em torno do Natal e dos Natais de minha infância (talvez, também, da infância de muitos).
Quando eu era criança, eu sempre quis ganhar uma bicicleta do Papai Noel. Eu esperava todos os anos que ela viesse, mas eu “nunca pedi” (já sinalizaram que este foi meu erro). Simplesmente, eu esperava, porque eu gostava e achava que eu merecia. O pai e a mãe nunca me derem, com sabedoria, porque eu era terrível em cima de uma: com certeza, eu teria me atirado com ela embaixo de um caminhão. Meu negócio era correr rua.
Na minha cabeça, era ele, o Papai Noel, que não queria me dar, e não a prudência do meu pai e da minha mãe, ainda que eu achasse que merecia. Mais que isso. Eu acreditava que o Papel Noel existia e mesmo que eu não ganhasse a minha bicicleta, aquilo era verdadeiramente mágico.
Em 1º de dezembro, a mãe já colocava enfeites de Natal na porta de casa, em um sinal de que “estávamos em espírito natalino”. Era uma mensagem; “Papai Noel, podes chegar!” Já mais perto da véspera de Natal, a gente montava a árvore.
Porém, não era uma árvore dessas que a gente compra em supermercado ou loja. Não! O pai comprava uma “árvore” de Natal mesmo…um “pinheirinho” grande que ele trazia no porta-malas aberto do fusca velho. Era tão grande que, entre a copa e o teto, só sobrava espaço para uma ponteira ou uma estrela guia. Com pedras, firmávamos o pinheirinho em uma lata de tinta vazia. Forrávamos a lata com um papel em motivos natalinos. A mãe, meu irmão Paulo e eu, depois, enfeitávamos a árvore inteirinha…
Ficava tudo lindo. Em volta, montávamos um presépio maravilhoso, usando serragem que o Paulo catava não sei onde… A mãe e o meu irmão Paulo tinham uma especial habilidade naquilo (diferente de mim que nunca soube fazer um risco reto). Eles punham cor até na serragem para parecer grama; em meio a ela, escondiam uma tampinha de qualquer coisa com água aparentando um laguinho. Usavam papel corrugado para montar as montanhas atrás da árvore de Natal. Toda narrativa cristã acerca no nascimento do Menino Jesus estava ali, congelada em uma representação magnífica: uma maquete perfeita.
Na véspera de Natal, dia 24/12, vinha o Papai Noel. Aliás, eram dois e de um deles eu tinha medo. Era do branco (o mais bravo). Do outro, não, o de vermelho, com roupas tradicionais (o mais bonzinho).
A primeira pergunta era se eu havia me comportado. Eu assentia com a cabeça e olhava para a mãe e para o pai, meio que esperando que eles verbalizassem o movimento que eu fazia com a cabeça. Depois, perguntavam como eu havia me saído na escola e eu balbuciava alguma coisa (essa era moleza, menos em matemática), com os olhos fixos no saco de presentes.
Perguntavam se eu havia pedido alguma coisa para o Papai Noel, e eu dizia que sim, uma boneca e sempre algo mais. Em seguida, eles começavam a distribuir os presentes que haviam trazido. A “bici” não vinha, mas vinham tantas outras coisas que não restava mais tempo para pensar nela. Eu queria brincar.
Depois da “Solenidade”, íamos todos para a casa da minha tia Neide onde os “Becker” se reuniam para comemorar o Natal, ao menos os mais próximos.
Tempos mágicos aqueles. Estou nostálgica. Muitos já não estão entre nós, tios, primos etc., nem a tia Neide. Porém, anos depois, a magia ruiu. O Papai Noel branco, eu soube que era o nosso vizinho, o seu Mário (o Paulo diz que era o Seu Agnelo); o vermelho, o meu Tio Luiz, marido da Tia Neide. Era tudo um ardil “justificável”, para um bom fim: a nossa alegria.
É dizer: eu senti medo e tive expectativas com base, dito com todas as legras, numa “mentira”, tudo com o esforço de meus pais e com a chancela deles que, sem embargo, ficavam tão felizes quanto eu, porque tudo era tão mágico. Eram “mentiras” inofensivas!
Compreendo bem que tudo tinha magia. Não seria a primeira vez. Se você procurar a verdadeira história de João e Maria, publicada, pela primeira vez, em 1812 pelos Irmãos Grimm (já traduzida em mais de 160 idiomas), com um conto infantil que, a despeito de ser lindo, remontam à época em que a Europa enfrentou uma crise terrível, tempos em que se tornou comum os pais matarem ou abandonarem os próprios filhos nas florestas, por não terem condições de sustentarem a todos.
Mas, adulta, sendo eu uma “Perguntolina por excelência”, não posso deixar de enxergar que foi a primeira grande mentira em que fui induzida a acreditar; que meus pais se sentiam felizes com aquilo e que, pior, eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Éramos tão felizes daquele jeito. E indago: será que a ignorância é uma benção?
Essa era, ao menos, a visão de Erasmo de Rotterdam, em seu “Elogio à Loucura”!
Apenas não tenho a resposta fechada, mas acho que sim!